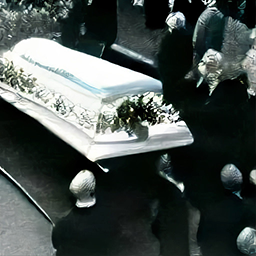Acordo às três da tarde com o gosto de maquiagem velha grudado na língua. A luz entra em lâminas finas pelas frestas da cortina blackout que comprei com a desculpa de proteger a pele, mas na verdade é pra não ver o mundo. É minha hora favorita do dia: o momento entre o esquecimento e a obrigação de existir. No escuro, meu corpo ainda brilha — um pouco suado, um pouco vencido. As curvas, a carne macia, os ossos escondidos. Minha anatomia oscila entre o milagre e a maldição. Sou uma boneca plastificada por cremes, clínicas e injeções.
Não tenho um único nome. Sou chamada de musa, de puta, de amor da vida de alguém que apagou meu número no dia seguinte. Meu analista diz que estou em colapso, mas ele também diz que é difícil manter a neutralidade comigo. E eu rio. Porque é isso que eles esperam de mim: um riso levemente histérico, a máscara da mulher que não sente nada.
Sonhei com um palco. Nele, usava um vestido tão transparente que era quase uma humilhação — costurado direto no corpo, feito pra ser arrancado com os olhos. Todas as luzes estavam voltadas para mim. Mas não havia som. Os aplausos eram mudos. As bocas se abriam, mas não falavam palavra. Acordei quando a primeira lágrima escorria pelo meu rosto perfeitamente maquiado.
Tenho pílulas para dormir, para acordar, para transar, para vomitar, para não sentir. Zolpidem, Rivotril, Fluoxetina, Lorazepam, Metilfenidato. Nomes que conheço melhor do que o meu próprio. Meus santos. Na farmácia, a balconista sempre hesita. “Você é a…?” “Sou.” Não importa quem. O que importa é o receituário, a sacola opaca, as tarjas vermelhas e pretas.
Gasto horas diante do espelho. Não por vaidade, mas por vigilância. Preciso me garantir inteira para continuar sendo ela — a mulher que eles desejam, que eles nunca tocam de verdade. Um holograma bem iluminado. Meus orgasmos, atuações premiadas. Cada gesto milimetrado. Cada suspiro como se viesse de um roteiro.
Durante semanas, não saio de casa. Mas não chego a me isolar completamente. Ainda abro minhas mensagens, que só respondo com emojis. A televisão fica ligada no mudo. A faxineira continua vindo, mesmo que eu me esconda no quarto. Não estou pronta para o desaparecimento total. Ainda não.
Não preciso mais trabalhar. Homens me pagam por existir. Um deles, Teo, me chama de bonequinha. Ele tem uma filha que poderia ser minha irmã mais nova. Ele me escreve mensagens longas que começam com “Meu anjo,” e terminam com GIFs de ursos carentes. A ternura dele me enoja. Toda vez que alguém diz que me ama, sinto uma vontade súbita de dormir por semanas.
Quando Teo diz eu te amo, com aquela voz pastosa, quase tímida, fico sem saber o que responder. Queria que ele dissesse algo que doesse, que me tirasse da zona de conforto do seu carinho previsível.
Olho o celular. Dezenas de mensagens e ligações perdidas. Todas sobre um vídeo. Que vídeo?, pergunto, e recebo um link. Dou play. Close no meu rosto. Um cara qualquer me fode por trás e diz meu nome, o nome que ninguém mais usa. Meu cabelo está preso com uma piranha de plástico em forma de flor. Um crime estético. Um crime de exposição. Sou eu, antes da última cirurgia.
Fico parada por horas. Não choro. Não grito. Deixo tudo desabar devagar. O vídeo tem menos de três minutos, mas me atravessa como uma década. Levanto, tomo alguns comprimidos e saio pela primeira vez em doze dias. No elevador, uma mulher me reconhece. Ela sorri como se fosse íntima, você é aquela atriz, né? Faço que sim. Ela não sabe o nome, mas sabe o rosto. É o suficiente. Ninguém aguenta o nome.
No caminho até o carro, penso em ir até o mar. Mas lembro que o mar não resolve nada. No espelho retrovisor, olho meu reflexo e sinto vertigem, meu próprio rosto me trai. Compro chocolate e boto gasolina. Volto pra casa.
Me masturbo com raiva e penso em Teo para testar o quanto eu suporto essa fantasia sem vomitar. Me imagino no quarto dele, ouvindo música alta, nua, sentada na beirada da cama em posição de criança, com um dildo rosa. Ele chega mais cedo de uma viagem e me flagra, o que você está fazendo? Congelo, com o dildo ainda enterrado em mim. Só consigo dizer papai, me desculpa. Vem uma imagem: ele me levando embora, como num filme ruim. Me carregando no colo, me chamando de bebê, me pondo numa casa com cortinas bege e café coado. Gozando, choro.
Ligo a televisão sem som, deixo alguma coisa passar. Uma mulher surge à beira da piscina como uma aparição fantasmática: roupão branco, pele leitosa, coxas meio abertas num convite sem resposta. Os cabelos molhados escorrem pelo rosto como restos de festa. Há algo de sagrado e pornográfico naquela pose. O narrador diz que o filme nunca foi terminado, que ela faltava às gravações, que já não sabia mais quem era fora das câmeras. Marilyn. A mulher mais vista do mundo e, mesmo assim, sempre à margem de si. A legenda diz Something’s Got to Give. Troco de canal. Já vi esse filme.
Depois de alguns dias, no sábado, vejo que o vídeo sumiu. Alguém apagou, ou ficou irrelevante. Não importa. O dano foi feito, a performance, comprometida. Aceito um convite para uma festa. Champanhe gelado, cocaína cara, homens com paletós justos e bocas gordas de promessas. Uma modelo me pergunta se sou triste ou apenas misteriosa. Eu respondo que sou uma farsa. Ela ri.
Teo aparece. Ele sempre aparece. Diz que sente minha falta. Que sonhou comigo. Que me ama, que me ama, que me ama. Eu me deixo levar, é mais fácil assim. Transamos no meu apartamento. Meus olhos fixos no teto. Meus gemidos, dosados. Ele dorme depois. Eu me levanto, nua, e olho meu reflexo no espelho do banheiro. Vejo a sombra dela. O brilho apagado no olhar. O cabelo impecável. Eu poderia morrer agora, e o enquadramento estaria perfeito.
Tomo todos os remédios que sobraram. Quero dormir por um mês. Por um ano. Para sempre.
A primeira coisa que ouço é a voz dele longe, abafada. Estou no hospital. O ar condicionado está gelado demais. As flores são feias. Teo está ali, sentado, os olhos fundos, a mão sobre a minha. Você me assustou, ele diz. Não sei se sorrio ou se minha boca apenas se curva sozinha. Não sei o que dizer. Ele continua falando, diz que me ama, que vai cuidar de mim, que agora vai ser diferente.
Nos dias seguintes, tudo acontece devagar. Vou pra casa com ele. A filha dele vem visitar todo fim de semana. Vejo filmes antigos com ela. Tomo os remédios que ele me dá. Uso o roupão que ele comprou. Começo a repetir gestos, frases, cenas. Rio na hora certa. Gemo na hora certa. Digo que estou melhor. Digo que amo ele e sorrio. Dentro, um grito muito antigo, que não sei mais de onde vem.
Escrevo. À mão, atrás de notas fiscais, nas bordas de livros, nas embalagens de cosméticos. Frases curtas, comandos: “A carne não esquece”, “Não acredite na ternura”, “A dor é uma forma de controle”, “Mais vísceras, mais veludo, mais veneno”. Escrevo e rasgo todos. Um a um. Então, deixo dois comprimidos de Rivotril se dissolverem debaixo da língua.